A NOTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA: CONSIDERAÇÕES PRÁTICAS E ÉTICAS
(especial para SIIC © Derechos reservados)
Coautor
Ana Lúcia Ferreira*
Professora Adjunta do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFRJ. Doutora em Saúde Pública. Pediatra do Núcleo de Atenção à Criança Vítima de Violência, do Instituto de Puericultura e*
Recepción del artículo: 7 de mayo, 2004
Aprobación: 16 de septiembre, 2004
 Conclusión breve
O artigo discute as alegações dos profissionais buscando avaliar suas implicações práticas e éticas diante dos limites institucionais dos sistemas de atenção à criança vítima de violência.
Conclusión breve
O artigo discute as alegações dos profissionais buscando avaliar suas implicações práticas e éticas diante dos limites institucionais dos sistemas de atenção à criança vítima de violência.
 Resumen
A obrigatoriedade da notificação não tem sido suficiente para levar ao conhecimento das autoridades os casos de violência contra a criança. Os profissionais responsáveis por notificar apresentam várias razões para não fazê-lo, entre elas a dúvida sobre os benefícios que gera para a criança. Esses dados têm sido apresentados em estudos norte-americanos e aplicam-se ao Brasil. Este artigo compara a situação de ambos o países em dois aspectos: as determinações legais acerca da obrigatoriedade da notificação e a atuação das agências de proteção e assistência à ciança e à família. O artigo discute as alegações dos profissionais buscando avaliar suas implicações práticas e éticas diante dos limites institucionais dos sistemas de atenção à criança vítima de violência. As autoras concluem pela necessidade (a) de manter a notificação como forma de proteger a criança vítima de violência; (b) de aprimorar o procedimento de notificar; (c) pela ampliação da troca das informações e intercâmbio entre as agências, tanto no que diz respeito à investigação quanto à proteção da criança e da família; (d) e pela conveniência da postura não adversarial como forma de proteger o bem-estar da criança e seu direito à convivência familiar, nos muitos casos em que isso é possível.
Resumen
A obrigatoriedade da notificação não tem sido suficiente para levar ao conhecimento das autoridades os casos de violência contra a criança. Os profissionais responsáveis por notificar apresentam várias razões para não fazê-lo, entre elas a dúvida sobre os benefícios que gera para a criança. Esses dados têm sido apresentados em estudos norte-americanos e aplicam-se ao Brasil. Este artigo compara a situação de ambos o países em dois aspectos: as determinações legais acerca da obrigatoriedade da notificação e a atuação das agências de proteção e assistência à ciança e à família. O artigo discute as alegações dos profissionais buscando avaliar suas implicações práticas e éticas diante dos limites institucionais dos sistemas de atenção à criança vítima de violência. As autoras concluem pela necessidade (a) de manter a notificação como forma de proteger a criança vítima de violência; (b) de aprimorar o procedimento de notificar; (c) pela ampliação da troca das informações e intercâmbio entre as agências, tanto no que diz respeito à investigação quanto à proteção da criança e da família; (d) e pela conveniência da postura não adversarial como forma de proteger o bem-estar da criança e seu direito à convivência familiar, nos muitos casos em que isso é possível.
 Palabras clave
Notificação da violência contra a criança, abuso e negligência, bem-estar da criança, proteção da criança
Clasificación en siicsalud
Palabras clave
Notificação da violência contra a criança, abuso e negligência, bem-estar da criança, proteção da criança
Clasificación en siicsalud
 Artículos originales> Expertos del Mundo>
Artículos originales> Expertos del Mundo>
página www.siicsalud.com/des/expertos.php/68371
Especialidades
 Principal: Pediatría, Salud Mental,
Principal: Pediatría, Salud Mental,
 Relacionadas: Medicina Legal, Salud Pública,
Relacionadas: Medicina Legal, Salud Pública,
 Enviar correspondencia a:
Enviar correspondencia a:
Hebe Signorini Gonçalves. Rua Ribeiro de Almeida 46 Apto 202 - Laranjeiras. 22.240 - 060 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil Signorini Gonçalves, Hebe
A NOTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA: CONSIDERAÇÕES PRÁTICAS E ÉTICAS
(especial para SIIC © Derechos reservados)
Artículo completo
Introdução
A segunda metade do século XX assistiu a uma transformação substancial na concepção de família: de lugar de proteção, ela passa a ser origem possível de ameaça ao bem-estar da criança. Contrariando a crença dominante na opinião pública e na academia, a sociedade contemporânea reconhece que a família pode, sob certas circunstâncias, representar risco para a saúde física e mental da criança. Cai por terra o mito higienista da família nuclear como modelo de amor e proteção, e com ele o papel do Estado como fiador da família higiênica.1
O conceito que move essa mudança é a violência doméstica contra a criança, que a um só tempo interroga as práticas de educação, o papel do Estado e os limites do poder parental. Em decorrência, o conceito de violência doméstica contra a criança traz à baila a discussão sobre os mecanismos capazes de proteger a criança cujo bem-estar é ameaçado pela família. Como se pode deduzir, o primeiro passo para prover essa proteção é fazer com que questões do privado tornem-se públicas. O instrumento que permite essa passagem é a notificação da violência contra a criança, pela qual profissionais e cidadãos informam a violência ao Estado.
A notificação tem portanto uma função vital e complexa. Ela é vital pois, ao tornar pública a violência, inaugura o conjunto de procedimentos capazes de proteger a criança. Ela é complexa porque, ao revelar aquilo que ocorre no espaço doméstico, confronta a crença arraigada segundo a qual o que é do privado deve permanecer privado, crença que durante séculos estruturou a vida em família, foi reafirmada pelo Estado e outras instituições sociais e ainda hoje persiste com maior ou menor força na mentalidade de pais, mães, profissionais e cidadãos que por força de lei ou compromisso moral são colocados frente à possibilidade de notificar a violência ocorrida em família.
Nos Estados Unidos, o tema da violência doméstica contra a criança tem sido estudado desde os anos 60, e os procedimentos de notificação começaram a ser discutidos e implantados na mesma década; as estatísticas americanas compilam esses dados há cerca de 40 anos, o que tanto permite traçar o panorama da incidência quanto avaliar as imprecisões e os desvios no manejo dos instrumentos de notificação. No Brasil, a violência contra a criança só passou a merecer maior atenção no final dos anos 80, quando o tema foi inscrito na Constituição Federal:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Dois anos mais tarde, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90) tornou obrigatória a notificação de casos suspeitos ou confirmados de maus-tratos, prevendo penas para profissionais de saúde e educação que deixassem de comunicar os casos de seu conhecimento:
Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.
Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente:
Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
A obrigatoriedade da notificação no Brasil é mais recente que nos Estados Unidos, e a qualidade da informação em saúde no Brasil é precária; exemplo disto é a sub-notificação da AIDS, patologia incluída no Sistema da Informações de Agravos de Notificação (SINAN) e com critérios bem estabelecidos para notificação.2 No que diz respeito à violência contra a criança, não é possível dispor de estatísticas unificadas, e portanto não há como traçar um panorama nacional da incidência, nem tampouco analisar a extensão das dificuldades associadas ao ato de notificar. Estas dificuldades começam contudo a despontar; por isso, conhecer o cenário americano, e identificar similaridades e diferenças entre os dois países, pode ser útil tanto para antever problemas quanto para antecipar soluções.
Este trabalho discute a notificação da violência contra a criança no Brasil invocando alguns elementos comparativos com dados e estudos norte-americanos. As autoras discutem as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde na notificação de casos de violência contra crianças, e suas possibilidades de solução, tomando como subsídio sua experiência no trato do tema.
A notificação da violência contra a criança: antecedentes históricos
A necessidade de conhecer as formas de violência contra a criança que têm lugar no ambiente doméstico é inegável; essa necessidade é correlata do próprio reconhecimento da existência da violência e família, e é essencial para estabelecer mecanismos de proteção para a criança. No entanto, a delicadeza do ato de notificar fez com que o Estado norte-americano experimentasse diversas alternativas legais até firmar o modelo hoje em vigor. Ensaios sucessivos visavam atender a obstáculos que surgiam face à adoção dessa ou daquela alternativa. Cada modelo respondia a um entrave particular, o que pode ser entendido como um diálogo entre a estrutura legal e o conjunto de demandas sociais colocados, de um lado, pela necessidade da criança e, de outro, pelas dificuldades dos agentes encarregados de sua proteção.
Modelos legais são permeáveis a tais demandas, e é desejável que isso ocorra. Na medida em que a lei constitui um importante dispositivo de organização do campo social,3 é razoável que ela ausculte demandas sociais e se adeqüe a valores que circulam na sociedade e regem as subjetividades. Georges Vigarello4 descreve esses ajustes entre a lei e os preceitos sociais na França, que levaram dois séculos até produzir o modelo legal que hoje rege a abordagem do estupro.
Em 1961, tem lugar a célebre Conferência em que Henry Kempe formaliza a noção de "Síndrome da Criança Espancada" (Battered Child Syndrome). Dois anos mais tarde, o United States Children\'s Bureau apresentava a primeira proposta de notificação da violência contra a criança,5 então obrigatória para a classe médica;6 essa era na época a categoria mais mobilizada para o enfrentamento do problema graças ao empenho de Henry Kempe que, Presidente da American Academy of Pediatrics, recomendava que os pediatras não se limitassem ao mero tratamento clínico dos ferimentos mas passassem a uma abordagem mais assertiva dos pais suspeitos de abusarem fisicamente de seus filhos.
Entre 1963 e 1970, todos os Estados americanos promulgaram leis tornando obrigatória a notificação da suspeita de abuso contra crianças.5 Durante esse mesmo período, dados a disseminação das discussões sobre o tema nas sociedades científicas e o ingresso de profissionais das ciências humanas e sociais nos programas de atenção a crianças vítimas de violência, a obrigatoriedade da notificação estendeu-se progressivamente a outras categorias profissionais. Hoje, qualquer profissional que mantenha contato com a criança (assistente social, pediatra, psiquiatra, psicólogo ou educador) é legalmente obrigado a notificar, exigência que alguns Estados americanos estendem a qualquer cidadão que suspeite de violência contra a criança.5,6
A obrigatoriedade de notificar veio portanto a reboque da mobilização em torno do problema: a recomendação da Sociedade Americana de Pediatria antecedeu a lei de 1963, assim como o engajamento dos profissionais de ciências humanas e sociais nos programas foi prévio à determinação de sua intervenção obrigatória nos casos de violência. A lei tornou mandatária, assim, a conduta que as entidades profissionais recomendavam.
A recomendação de entidades profissionais e sociedades científicas não foi aceita unanimemente pelos seus associados: divergências são usuais e tanto mais comuns quanto mais controverso o tema; a notificação da violência confrontava a concepção de vida privada e argüía a obrigatoriedade do sigilo profissional. Até mesmo a determinação legal comportava certas linhas de escape, visto que o grau de suspeita que justificasse a notificação não estava suficientemente estabelecido, nem o conceito de violência que embasa a notificação, suficientemente claro. Produto ou indício dessas dificuldades é a constatação de que, mesmo obrigatória por força da lei americana, a notificação era encaminhada em um número de casos considerado inexpressivo diante da incidência estimada da violência. Enquanto o First National Incidence Study (NIS-1) [o NIS-1, publicado em 1980, estimava uma incidência de 9,8/1000; o NIS-2, publicado em 1986, 14,8/1000; o NIS-3, de 1993, 23.1/1000. Healthy Anchorage Indicators Project, 1998, nr. 5, http://www.indicators.ak.org/indmonth/pdffiles/98_04childabuse.pdf], que coletou dados em 1979, estimava uma incidência de abuso de 9.8/1 000, em 1970 o Estado da Flórida recebia uma média de 20 notificações por ano.5
Era preciso fazer com que a discussão sobre a violência extrapolasse a academia e as entidades profissionais, conquistasse a opinião pública e pressionasse a notificação. A estratégia adotada para conferir visibilidade à questão foram as campanhas, o que se revelou afinal eficaz: na Flórida, onde a primeira campanha teve lugar em 1971, o número de notificações passou da média de 20 por ano para 19 mil denúncias já no primeiro ano da campanha.5
O crescimento do número de notificações trouxe contudo um novo obstáculo. A notificação da suspeita de violência obrigava à abertura de processo de investigação judicial. Muitos pais, tipificados como suspeitos em processos cujo desfecho não comprovava a autoria da violência que lhes havia sido imputada, processavam por sua vez o profissional que os acusara. Em resumo, o profissional que cumpria a lei e notificava a suspeita de violência terminava nas barras dos tribunais na condição de réu, acusado de calúnia. Sob tal circunstância seria previsível o recuo no cumprimento da lei, o que efetivamente aconteceu.
Para contornar mais essa dificuldade, o Estado passou a proteger o profissional que notifica, independente da comprovação da denúncia. Hoje, nenhum profissional pode ser processado por calúnia nos Estados Unidos em decorrência da notificação de violência contra a criança. O formato da imunidade profissional varia conforme o Estado: a imunidade absoluta protege o profissional mesmo quando a notificação é caracterizada como negligente, mal fundamentada ou feita de má-fé; a imunidade qualificada, mais comum, protege o profissional que age de boa fé e impede a abertura de processo civil ou criminal mesmo que a denúncia não seja comprovada.8
Mas nem a obrigatoriedade, nem a proteção ao profissional, foram suficientes para fazer com que o número de notificações se aproximasse das estimativas de incidência. Diante de um número considerado ainda muito aquém do real, o Estado americano lançou mão de procedimentos coercitivos e estabeleceu penalidades criminais, aplicáveis ao profissional que descumprisse seu dever legal de notificar. Em conjunto, essas medidas foram responsáveis pelo crescimento de 332% no número de notificações de violência entre os anos de 1976 e 1993, nos Estados Unidos.5
Houve assim um longo processo de ajustes mútuos entre a recomendação de notificar e a escusa em fazê-lo. A lei foi-se alterando pouco a pouco, ouvindo e incorporando argumentos, regulando práticas e contornando linhas de fuga. No Brasil, esse ajuste não ocorreu. A lei promulgada em 1990 criou o instrumento da notificação, estabeleceu que ela é obrigatória e previu a punição do profissional que a desatendesse, modelo que ainda vigora inalterado. Isso ocorreu antes mesmo que o tema da violência doméstica contra a criança houvesse conquistado espaço na consciência coletiva, nas agendas das entidades profissionais ou entre os formuladores de políticas públicas. [Os registros de ocorrência de casos de violência doméstica contra a criança no Brasil são esparsos até os anos 90. Sabe-se que em 1973 Coates, Ribeiro, Hercowitz e Keiserman registraram o espancamento de uma criança de 1 ano e 3 meses, abandonada pela mãe na emergência da Santa Casa de São Paulo e adotada após 207 dias de internação hospitalar. Em 1975, Armando Amoedo, radiologista do Hospital Jesus do Rio de Janeiro, publicou na revista Brasil Jovem relato de 5 casos de maus tratos confirmados com base no depoimento das vítimas. José Raimundo da Silva Lippi, na Universidade Federal de Minas Gerais e Celina Guerra Deluqui, na Universidade São Paulo, começaram a trabalhar o tema nos anos 80, na mesma década em que Viviane Guerra publicou seu Violência de pais contra filhos, e em que Maria Aparecida Marques defendeu seu doutorado em Columbia, intitulado An exploratory study on violence against children in a favela in Rio de Janeiro. Só a partir de então é que o assunto ganha corpo na sociedade brasileira.] Essa lacuna entre a lei e a demanda social criou dificuldades que ainda persistem, como veremos adiante.
Reflexos do crescimento das notificações nos Estados Unidos
Entre os anos 60 e 80, houve um aumento expressivo do número de notificações nos Estados Unidos. Hoje elas são milhares a cada ano e, embora ainda distantes da incidência estimada, aproximam-se desta. A incidência estimada indica uma demanda de proteção potencial que a notificação concretiza; ao indicar a vítima, o agressor e a violência, a notificação explicita a necessidade de investigação da denúncia e de proteção da criança. Trata-se, em suma, de prover recursos humanos qualificados, criar e estruturar políticas e programas de atenção à criança e à família. É preciso investir uma grande soma de recursos para que a violência revelada pela notificação não se encerre em si mesma.
Nos Estados Unidos, essa demanda exerceu enorme pressão sobre o Estado, que passou a elaborar e divulgar um conjunto de normas com o propósito de orientar sobre a pertinência da notificação, sobre as situações em que ela cabe, quais os destinatários da denúncia e os fundamentos e as formas admitidos para promover uma intervenção na família com vistas à proteção da vítima. Foram também criadas inúmeras agências de proteção, com investimento paralelo na qualidade de seu serviço.7
O esforço normativo em prol da definição das situações passíveis de notificação decorre em primeiro lugar da necessidade de precisar o que deve ser entendido como suspeita. Se a referência se esgota na expressão "suspeita", o sistema de proteção corre o risco de deixar a cargo de cada profissional a decisão acerca do que e quando notificar, visto que a noção se apoia em critérios vagos e subjetivos, podendo tornar inócua as intenções de identificar a violência e proteger a criança. Em segundo lugar, decorre da verificação de que muitas denúncias, mesmo investigadas com esmero, não chegavam a ser comprovadas. Era preciso levar ao ato de notificar o mesmo rigor conceitual adotado nos levantamentos de incidência (NIS), de modo a otimizar a participação dos profissionais e evitar o desgaste das famílias investigadas por suspeita de violência contra seus filhos.
Trata-se aqui de um esforço no sentido de discriminar entre duas situações: (a) uma elasticidade excessiva dos conceitos de abuso e negligência, que tende a conduzir às agências de proteção casos onde não há violência; e (b) um uso excessivamente restrito dos mesmos conceitos, que tende a deixar de informar situações em que a criança efetivamente necessita proteção. No primeiro caso, falamos em super-notificação; no segundo, em sub-notificação; a cada uma dessas situações subjazem dificuldades específicas que merecem ser consideradas.
Nos Estados Unidos, o aumento do número de notificações fez crescer o percentual de notificações infundadas; elas são estimadas em 65%,6 60 a 63%,7 ou 62%.5
Essas taxas percentuais, consideradas elevadas, têm sido atribuídas principalmente a falhas nos documentos técnicos que orientam acerca daquilo que deve ser objeto de notificação. Para Besharov (1993),6 o sistema de proteção à criança vítima de violência admite uma multiplicidade excessiva de indícios de violência; exige pouco do profissional quanto à coleta desses sinais e indícios; e acata notificações imprecisas e pouco fundamentadas. Somadas às divergências que ainda existem em torno das noções de violência e abuso,9 e a uma preocupação disseminada mas vaga quanto às formas de proteger a criança, essas dificuldades produzem o excesso verificado.6,7
Esse excesso cobra seu preço às agências de proteção, pois cria uma sobrecarga que compromete a qualidade e a eficácia de seu trabalho. As agências dispõem de pessoal pouco qualificado, inábil ou escasso7 sobre o qual pesa a obrigação legal de investigar todos os casos, inclusive aqueles em que a notificação é imprecisa e oferece poucos elementos a serem examinados. Por isso, os processos de investigação são freqüentemente falhos ou inconclusos6 e produzem evidências apenas quando a violência é mais grave.7 Há casos só examinados semanas ou meses após a notificação; 25% a 50% das mortes de crianças por violência referem-se a casos previamente notificados;6 e 72% dos casos sequer chegam a ser investigados.10 O excesso de denúncias coloca portanto em risco a criança que sofre violência, o que leva alguns autores a recomendar que a obrigatoriedade da notificação seja restrita às situações em que a violência seja mais grave ou possa ser melhor caracterizada.6
Mas essa é apenas uma parte do problema. O percentual de casos conhecidos pelos profissionais e não notificados é estimado em 58%; entre esses, há abusos severos,11 o que indica que muitas vítimas de violência não recebem a proteção necessária.12 Dados levantados no Children\'s Hospital and Health Center de San Diego, Califórnia, mostram que só 3% das hospitalizações por trauma são atribuídas à violência, número que contrasta com a estimativa de 30% de mortalidade de crianças com esta etiologia.13 Para alguns autores, esses são indícios da necessidade de notificar toda e qualquer suspeita, e ao mesmo tempo investir na capacitação das equipes e no rigor da investigação que se segue à denúncia. Para David Finkelhor,12 a preocupação com a violência na infância é ainda muito recente, não faz parte do cotidiano das ações de saúde nem integra a consciência da população ou dos profissionais quanto ao papel crucial que devem desempenhar na proteção das vítimas; por isso, a notificação de qualquer nível de suspeita é plenamente justificado.
Os argumentos reproduzidos acima trazem implícito o reconhecimento de que, a despeito da obrigatoriedade, nem todos os casos conhecidos de violência são notificados. Por que os profissionais se furtam a essa responsabilidade A literatura indica algumas razões: a relutância dos profissionais em envolverem-se no que consideram "assunto de família";14 o desconhecimento dos sinais clássicos de violência, que faz com que muitos episódios de abuso sejam vistos como acidentais; a tendência a evitar as conseqüências jurídicas de um processo contra a família, o que requer dispêndio de tempo nos tribunais ou no preparo de provas processuais; o receio de processos movidos pela família, por falsa acusação ou injúria; a crença do profissional de que ele próprio pode fazer mais pela criança e pela família que as agências de proteção;5 e ainda a crença de que a notificação não protege, mas compromete o interesse da criança.11
Richard Gelles5 aborda as dificuldades técnicas e operacionais relativas ao ato de notificar, algumas das quais aplicáveis ao caso brasileiro como veremos adiante. Por ora, queremos discutir em particular os dois últimos motivos alegados pelos profissionais, que não só desacreditam as agências de proteção como tributam a elas uma ação de certo modo iatrogênica. Destacamos esses pontos pois parece que eles encerram implicações éticas sumamente relevantes.
Como primeiro aspecto dessa discussão, lembremo-nos que cerca de 60% das notificações não são fundamentadas mesmo após a investigação. Isso significa que a família, notificada como possível autora de violência, tem sua vida investigada com base numa denúncia que se mostra afinal infundada. A investigação da violência requer a visita de agentes sociais, às vezes acompanhados de policiais, à residência da família; assuntos privados são discutidos com pais, filhos e irmãos das supostas vítimas; com freqüência, são contatados parentes distantes, amigos e professores; alguns autores –por exemplo, Susan Briggs–15 recomendam a busca de informações junto a membros da comunidade na qual a família vive. É inevitável que, apesar do sigilo de processo que a lei assegura, a suspeita de violência termine na prática tornando-se pública. A mera imputação da suspeita se imprime na família, e o estigma da violência termina marcando culpados e inocentes. Na prática, inverte-se assim o princípio legal da presunção de inocência até prova em contrário.16 Em conseqüência, verificam-se reflexos de longo prazo na vida familiar, nas relações comunitárias e sociais de seus membros, e na vida da própria criança originalmente alvo de proteção.6 Quando a família enfrenta tal grau de ingerência em seu cotidiano e em sua privacidade sem que daí se possa extrair qualquer benefício para a criança, parece portanto que o exame prévio e cuidadoso da necessidade de notificar é, per si, um ato de proteção.
Outros autores entendem que muitos casos são classificados como infundados porque a família não é localizada, porque a notificação é excessivamente vaga, ou até mesmo porque se refere a abusos ocorridos há longo tempo, envolvendo crianças muitas vezes já afastadas de seus pais biológicos; seriam situações que sequer chegam a ser investigadas, o que autorizaria desqualificar a extensão dos danos acima discutidos.12 Mas essa linha de argumentação escusa-se ao exame daquilo que é essencial. Uma falha no processo –que, lembremos, exige a investigação de toda e qualquer suspeita– não pode ser elevada à condição de atenuante dos danos potenciais que aí residem. É mister observar que, in extremis, a manutenção dos erros seria a forma de preservar a família diante das questões éticas que Douglas Besharov propõe, já discutidas neste texto.
O segundo aspecto da discussão diz respeito à capacitação dos profissionais, aí envolvidos tanto os responsáveis pela notificação quanto os encarregados da investigação da denúncia.5,7 É verdade que a expressão "caso infundado" não permite descartar com segurança a ocorrência da violência: ela apenas indica que a denúncia não se comprovou, o que pode ser atribuído inclusive a questões de capacitação.12 Esse é um aspecto que merece ser discutido sob dois ângulos: as normas, regras e preceitos que orientam a suspeita; e a capacitação profissional propriamente dita, que decorre das normas e sustenta-se nelas.
É real a dificuldade para distinguir entre um dano que resulta de acidente e outro que é produto de violência. Se nos casos de maior gravidade a distinção é relativamente simples, em outros envolve alto grau de complexidade. Profissionais capacitados e experientes afirmam que a dúvida pode persistir mesmo após investigação criteriosa. A despeito dessa dificuldade, o diagnóstico diferencial é importante pois ele define a estratégia de proteção da criança, que difere conforme ela tenha sofrido um acidente ou uma violência. Para Susan Briggs, a possibilidade de estabelecer essa diferenciação com segurança depende da escuta da vítima, da observação de seus sinais corporais e de seu comportamento, e ainda da atitude profissional de manutenção de um alto nível de suspeita em face dos traumas apresentados pela criança [e em face dos] sinais de comportamento inapropriado dos familiares.15
Mas é justamente na definição dos ditos "sinais de comportamento inapropriado" que reside a principal dificuldade do diagnóstico diferencial. A violência não é um fenômeno determinístico; ou seja, não há relação necessária entre o fato gerador e o evento violento. Os numerosos estudos epidemiológicos desenham o panorama da questão e oferecem indícios preciosos de análise, mas são insuficientes para explicar e compreender as situações singulares. Diante destas, é preciso decidir quais fatores de ajuste, quais determinações específicas e que regras particulares aplicar. É exigível portanto uma capacitação que excede a mera transmissão de informação e recubra o preparo para a escuta do Outro, sem o que a investigação corre o risco de resvalar no perigoso território da avaliação moral da conduta. É forçoso reconhecer no entanto que, ainda que atenta a tais cuidados, a observação do comportamento inapropriado vai depender do contato estreito com os suspeitos da violência, da inquirição dos detalhes dos eventos que produziram a injúria, da observação direta e minuciosa do comportamento dos familiares... Parece desnecessário chamar a atenção do leitor para o fato de que recaímos no argumento de Douglas Besharov, para quem uma investigação de violência é necessariamente e por natureza um ato de intrusão na vida familiar.
Um terceiro e último aspecto merece ser abordado. Uma porcentagem não desprezível de notificações refere-se a sofrimentos da criança que derivam das carências familiares, e não de violência. Em tais situações, a notificação termina por assegurar à criança e à família o acesso a certos benefícios sociais, mas isso se dá às custas de uma ação que é, na origem, intrusiva.6 O alerta é de suma importância no Brasil, como veremos mais adiante.
O debate parece assim polarizado em torno do que é admissível ao público, diante do espaço privado. Alguns autores sustentam que a intrusão na vida familiar é um preço razoável a pagar em nome da proteção a vítimas inocentes, e um certo grau de ineficiência e intrusão na privacidade e liberdade de indivíduos parece perfeitamente racional e justificável se o objetivo a atingir é suficientemente importante.12 Outros, ao contrário, acreditam que embora repouse sobre os poderes públicos a responsabilidade legal de proteger os direitos de crianças, essa responsabilidade não é exclusiva e deve estender-se a todos os direitos de quaisquer cidadãos, razão pela qual não se deve admitir qualquer relaxamento das salvaguardas legais;17 as 700 000 famílias postas sob investigação a cada ano com base em falsas denúncias seriam a expressão de uma injustificada violação dos direitos paternos.6
Detenhamo-nos por ora no entendimento dessa questão.
Proteção da criança: a ética do direito
Foi durante os anos 80 que passamos a admitir a possibilidade de intervenção do Estado na família, restringindo direitos parentais, quando o bem-estar da criança é ameaçado ou violado. Na medida em que essa intervenção contrapõe direitos individuais e subjetivos, ela compete ao sistema legal, única via pela qual o direito pode ser submetido ao poder coercitivo do Estado.17 Esse discurso hoje nos parece natural; mas até os anos 80 a preocupação do Estado quanto à proteção da criança passava necessariamente pela família: ao Estado cumpria apoiar, suportar e auxiliar a família quando esta não atendesse às necessidades da criança. São abordagens antagônicas: antes era privilegiado o direito da família, suportada pelo Estado, em prol da criança; hoje, contrapõe-se ao direito da família o direito da criança, com a anuência do Estado. A diferença é sutil, mas ela é tanto mais difícil porque a Convenção Internacional do Direito da Criança acolheu as duas formas de proteção da criança18 e com isso contribuiu para mesclar concepções diversas entre si.
A Convenção Internacional dos Direitos da Criança atende a um só tempo a duas tradições antagônicas entre si: de um lado, a filosofia da proteção, tributária da defesa dos direitos humanos; de outro, o pensamento mais recente dos direitos da criança. Na filosofia da proteção, a criança é desde o nascimento detentora de direitos. Ela, contudo, não os pode exercer; para fazê-lo, deve preparar-se ao longo de toda a infância, período durante o qual deve ser por isso protegida. Para o pensamento dos direitos da criança, esta detém desde o nascimento direitos especiais, que derivam de sua condição singular e devem ser resguardados pelos códigos legais. No entender de Irene Théry, tratar a criança como portadora de direitos subjetivos é uma posição que traz duas conseqüências, nenhuma delas desejável: primeiro, possibilita que se cobre da criança responsabilidades sociais para as quais ela não está preparada; [Entre os direitos especiais da criança estão os direitos de expressão, de opinião e de associação, historicamente considerados fundamentos da responsabilidade social: quem se expressa, opina ou se associa deve responder pelas conseqüências de seus atos.] segundo, sublinha conflitos entre direitos subjetivos dos pais e direitos subjetivos da prole, como se antagônicos fossem.19 Os ideólogos do direito da criança não vêem público e privado como categorias que estruturam o social e são por isso indispensáveis; não consideram que a infância é uma categoria social complexa e heterogênea, tratam a criança como indivíduo autônomo e confundem direitos subjetivos com a própria via social, ignorando que o social é relação e interdependência.18
No que diz respeito mais diretamente ao tema da violência contra a criança, a autora entende que, em Estados policialescos ou com estruturas normativas muito frágeis, o argumento da proteção da criança encerra o perigo de submeter ao controle ou ao escrutínio público todas as relações parentais, e não só aquelas atravessadas pela violência.19
É certo que, diante da possibilidade de que a família seja violenta, é preciso proteger a criança mesmo no ambiente doméstico. Ferreira & Schramm discutiram as implicações éticas da interferência do Estado na dinâmica familiar, utilizada para promover a proteção das crianças vítimas de violência doméstica. Analisando a questão à luz de algumas teorias éticas –o consequencialismo, o utilitarismo e a deontologia–, os autores concluem que uma posição de proteção relativa à criança, que permita garantir prima facie seus direitos específicos sem impedir seu desenvolvimento biopsicosocial, seria a melhor opção para a criança e a sociedade.20 Como fazê-lo sem contrapor direitos e sem arriscar a tessitura do social
Alternativas em discussão: conjugando a ruptura da obrigação do sigilo ao abandono da postura adversarial
O sigilo
Romper o sigilo: central para os profissionais de saúde, de ciências humanas e de ciências sociais, o tema do sigilo na relação com o cliente despertou dúvidas, questionamentos e resistências. Tratados como "segredos de família" entregues ao profissional, a possibilidade de revelação dos dramas familiares que envolvem a prática de atos violentos requereu e ainda requer grande esforço.
Romper o sigilo não significa afronta ou desrespeito para com esses dramas de família relatados ao profissional. É possível suspeitar de violência no interior de uma relação onde profissional e cliente trabalham juntos em nome da proteção da criança, e é possível preservar a assistência sob a condição de que a suspeita não seja intempestiva nem pouco fundamentada. Ao profissional, recomenda-se em primeiro lugar reservar seu julgamento até que todos os fatos sejam conhecidos; contar para eles [os pais] a razão da entrevista; [e] deixar claro que é obrigação legal do médico notificar todos os casos suspeitos.21 A possibilidade de ruptura do sigilo em casos de violência contra a criança trata como diversos os temas da confidência e da confiança, sobre o pressuposto de que revelar a confidência não mina a confiança se cada passo puder ser discutido entre o profissional e a família. O profissional passa a ser responsável por fazer ver que os interesses maiores da segurança individual estão acima e limitam alguns aspectos da confidencialidade da relação médico-paciente.21
Contudo, muitos profissionais eximem-se de notificar e optam por manter o sigilo que cerca a confidência, acreditando nela como um elo importante na relação com a família que faz com que a intervenção seja melhor recebida e por isso mais eficaz.5 De fato, alguns autores reconhecem que muitas famílias, após a notificação da suspeita de violência, abandonam o tratamento; mas eles chamam a atenção para as benesses de um atendimento continuado que possa incorporar a discussão da violência, incorporar outros atores cuja participação é necessária, e argumentam que haverá tanto mais benefícios para a criança quanto melhores forem as relações entre o profissional e a família, possibilidade que pode ser construída para além da notificação.8
A postura defendida por Richard Gelles e Carol Berkowitz é não adversarial: eles entendem que notificar a violência, e discuti-la, não implica necessariamente em oposição de interesses nem tomada de posição em favor da criança ou da família. Ao contrário, o que se coloca é a construção de um canal de diálogo capaz de articular interesses e necessidades aparentemente conflitantes. Essa postura parece viável na relação entre o profissional e seu cliente. Será viável em maior escala, nos programas e nas agências de investigação
Extensão e alcance da postura não adversarial
Os Estados Unidos têm experimentado modelos alternativos de legislação e de abordagem da família suspeita de violência. Em linhas gerais, leis e projetos propõem que, em situações de menor gravidade e risco para as crianças, profissionais treinados disponham de mais tempo para trabalhar junto à família e colher mais elementos que possibilitem avaliar a necessidade de notificar. Sistemas alternativos, que permitem eleger como prioridade uma intervenção assistencial ou investigativa dependendo do caso particular têm sido implementados em caráter experimental, desde 1993, nos estados da Flórida, Missouri, Iowa, Virginia e Kentucky.11,21
Esses modelos têm dois propósitos em perspectiva. Em primeiro lugar está a possibilidade de prestar assistência a inúmeros casos em que a notificação de violência deve-se a um sofrimento da criança derivado de carências familiares, não de violência.6 Nesses casos, não cabe confrontar a família mas assisti-la, suportá-la, e restabelecer as condições propícias para que ela própria assuma sua função parental. Em segundo lugar, coloca-se a necessidade de diferenciar entre as situações mais graves e menos freqüentes de violência contra a criança, que requerem intervenção firme e coercitiva do Estado, das menos graves, e mais numerosas, em que a criança pode beneficiar-se da assistência à família sob supervisão do Estado.21
A distinção entre intervir contra, ou agir em conjunto com a família, recoloca o tema da notificação, da proteção da criança e do papel do Estado. Admitida a postura não adversarial, a notificação deixa de ser instrumento de acusação a famílias inapropriadas para transformar-se em veículo de articulação de recursos sociais em nome da reconstrução da vida familiar; a proteção da criança passa a ser atribuição conjunta da família, da sociedade e do Estado e não veículo de contraposição de interesses e direitos. Finalmente, a postura não adversarial recoloca o poder público como coadjuvante dos processos de construção da sociabilidade, conferindo a ele a função de trabalhar em nome do resgate das relações familiares que se esgotam na violência.
Desde 1993, a U.S. Advisory Board on Child Abuse and Neglect preocupa-se com o fato de as agências de proteção, sobrecarregadas com as investigações de denúncias de abuso, muitas das quais não substanciadas terminam com poucos recursos para oferecer suporte às famílias; os investimentos na investigação e nos processos jurídicos contra a família consomem tempo e recursos financeiros e afinal, na prática, a filosofia de oferecer apoio às famílias está se perdendo.22 Trabalhar com, e não contra, pode ser a via de resgate daquela filosofia.
Violência contra a criança no Brasil: legislação e dados preliminares
No Brasil, a expressão "maus-tratos" foi inserida no art. 136 do Código Penal, e sua autoria tratada como crime passível punição. A inscrição desse tipo penal nos códigos criminais não tinha, no entanto, apelo ou penetração na consciência coletiva. Foi só a partir dos anos 80, quando o tema começou a ser objeto de publicações acadêmicas, e especialmente a partir dos anos 90, com a inclusão dos artigos 13 e 245 no Estatuto da Criança e do Adolescente, que as discussões e campanhas começaram a ganhar espaço na mídia, a ocupar as instâncias acadêmicas e governamentais, e a repercutir no grande público. Desde então, um grande número de programas tem sido implementado em todo o Brasil. Hoje, há muitas ações e projetos cujo objetivo central é a redução da violência contra a criança; sua cobertura é ainda insuficiente, mas eles estão em expansão.
A exigência do art. 13 do Estatuto, segundo o qual as suspeitas ou confirmações de maus-tratos devem ser encaminhadas aos Conselhos Tutelares das localidades onde ocorrem, coloca esses organismos no centro da discussão acerca da notificação. O Conselho Tutelar é um organismo governamental que, segundo o Estatuto, deve ser instalado nos diversos Municípios brasileiros, cujas prefeituras são responsáveis pela legislação específica, pelo provimento da infra-estrutura necessária e pela remuneração dos Conselheiros.
Dada a importância de seu papel como centralizadores das notificações, convém traçar aqui um perfil, ainda que breve, da situação dos Conselhos Tutelares no território nacional. Sua instalação, recomendada em 1990 pelo Estatuto, foi lenta e difícil. Em 1996, havia 1 741 municípios onde os Conselhos Tutelares já estavam operando, número insuficiente para os 5 560 municípios no país. Em 2001, eram 3 011 os municípios com Conselhos Tutelares instalados, segundo dados do Governo brasileiro. [http://www.presidencia.gov.br/sedh/] Ainda que o Estatuto estabeleça que a ausência do Conselho Tutelar deve ser suprida pela autoridade judiciária (art. 262), é inegável que onde não há Conselho há um vácuo que termina operando contra a notificação da violência. A esse quadro, somam-se inúmeras dificuldades operacionais: mesmo onde instalados, os Conselhos Tutelares funcionam em condições adversas, sem infra-estrutura nem serviços de retaguarda necessários; sobre os conselheiros, de formação heterogênea e às vezes insuficiente, recai enorme demanda de serviços.22,23 Em conseqüência dessas dificuldades, a demanda ultrapassa em muito a capacidade dos Conselhos para absorvê-las. Os atrasos no encaminhamento dos casos é infelizmente uma rotina, e a falta de acompanhamento uma realidade. Premido pela demanda de um lado e pela falta de recursos de outro, o Conselho é obrigado a restringir-se ao dia-a-dia, incapaz de dar seguimento ao que já iniciou. Não há viaturas que permitam realizar visitas domiciliares, e a falta de pessoal impede que o conselheiro se dedique às investigações necessárias ou que compartilhe com seus colegas as decisões a tomar; na prática, um órgão que deveria ser colegiado opera com base em decisões individuais de cada conselheiro, que no máximo consegue consultar a equipe técnica contratada para lhe dar suporte.22
Ocorre que grande parte da demanda que chega ao Conselho Tutelar diz respeito à investigação de denúncias de violência contra a criança. [Em alguns Conselhos Tutelares do Rio, o número de casos de denúncias de violência contra a criança atinge mais de 80% do total de casos que ocupam os Conselheiros, segundo comunicação pessoal de técnicos da Secretaria Municipal de Saúde [24: 154)]
Diante das dificuldades descritas, é compreensível que os Conselhos Tutelares não tenham sido até agora capazes de apresentar levantamentos unificados acerca da violência contra a criança. Como forma de suprir essa lacuna, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro baixou a Resolução SES 1354, de 09/07/1999, tornando compulsória a notificação de maus-tratos contra crianças e adolescentes até 18 anos incompletos e contra portadores de deficiência. Pouco depois, o Ministério da Saúde estendeu a mesma obrigatoriedade para todo o território nacional, por meio da edição da Portaria 1.968, de 25/10/2001. Ambas as normas determinam que a notificação seja encaminhada em paralelo ao Conselho Tutelar e ao Sistema de Saúde; essa medida visa possibilitar uma avaliação mais nítida do número global de notificações no Estado e no País, valendo-se dos recursos do sistema de saúde, que já conta com instrumentos qualificados e pessoal especializado na produção de estatísticas de mortalidade e morbidade.
Forçosamente, a estatística daí derivada restringe-se à área de saúde e não esgota o total de notificações recebidas nos Conselhos Tutelares. Em outro trabalho, já mostramos que apenas 4.3% das notificações têm origem em serviços de atenção à criança; a maioria das denúncias de violência é encaminhada por parentes (32.5%), amigos ou vizinhos (27.6%) da criança.25 Ainda que a observação empírica, por natureza precária, indique que a maioria das notificações institucionais tem origem nos serviços de saúde, a cobertura desse sistema é, como se vê, restrita.
A presente análise recorre aos dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), e por três serviços de atenção à criança vítima de violência: a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência (ABRAPIA); o Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância do ABCD Paulista (CRAMI-ABCD) e o Ambulatório da Família, vinculado ao Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A ABRAPIA e o CRAMI-ABCD são organizações não-governamentais, e o AF-IPPMG é um hospital universitário integrado à rede pública de saúde. Note-se que os dados aí originados não podem ser tomados como dados oficiais de notificação visto que não têm origem nos Conselhos Tutelares. Eles permitem contudo traçar um panorama aproximado da violência contra a criança.
Entre julho de 1999 e julho de 2002, a SES-RJ recebeu 3 535 notificações de violência contra a criança, provenientes principalmente dos municípios do Rio de Janeiro (48.0%) e Duque de Caxias (35.7%). Entre janeiro de 1998 e junho de 1999, a ABRAPIA identificou 1 169 casos de maus-tratos. O CRAMI-ABCD atendeu a 1 734 crianças entre 1999 e 2002. O AF-IPPMG atendeu no período de abril de 1996 a julho de 2003 605 crianças que sofreram 819 tipos de violência. Os tipos de violência se distribuem conforme a tabela 1:

A primeira constatação para a qual convém atentar é que o número de notificações é inexpressivo. Os registros do CRAMI-ABCD, da ABRAPIA e do AF-IPPMG, relativos a programas de atenção a crianças vítimas de violência, são pontuais porque restritos às áreas geográficas específicas cobertas pelos serviços. No entanto, os dados da SES-RJ, relativos ao Estado, constituem a expressão da falta de cobertura que a notificação poderia proporcionar: é imperioso reconhecer, aqui, que as 3 535 notificações no Estado, no período de três anos, estão longe de cobrir o total de casos: elas estão concentradas em dois Municípios do Estado e seu total, comparado aos dados divulgados por dois dos serviços que têm sede no Rio de Janeiro (ABRAPIA e AF-IPPMG), fica aquém do esperado. Os limites da análise com base nos dados divulgados é, por isso, uma realidade. Tais limites dificultam a condução de estudos acerca das questões específicas envolvidas no ato de notificar, já que a base de dados não é representativa.
No entanto, essas questões existem, os profissionais dos serviços de atenção à criança vítima de violência já começam a percebê-las na prática. Por essa razão, a despeito da precariedade das estatísticas e apesar da prática da notificação estar apenas se iniciando no Brasil, não é demais antecipar algumas questões já presentes em outras nações onde a violência vem sendo estudada há mais tempo.
Notificação: similaridades e diferenças entre Estados Unidos e Brasil
O esforço americano em prol do reconhecimento da violência contra a criança e da constituição de sistemas de proteção logrou êxito em todo o mundo. A influência americana fez-se sentir nos modelos regulatórios, na constituição e na estruturação de serviços de proteção, no modus operandi das equipes. Essa influência produziu no Brasil um sistema de notificação que se identifica ao americano em dois aspectos: a obrigatoriedade de notificar casos suspeitos ou confirmados a um organismo designado em lei; e a adoção de medidas punitivas para os profissionais que, responsáveis pela notificação, não o fazem. Assim como nos Estados Unidos, várias campanhas têm sido patrocinadas por órgãos públicos brasileiros, visando imprimir maior visibilidade ao fenômeno da violência contra a criança, e conclamando à notificação dos casos às autoridades competentes.Ao lado dessas similaridades, despontam algumas diferenças: em todo o território brasileiro, a notificação da violência é obrigatória apenas para os profissionais de saúde e de educação, e recomendada para quaisquer outros profissionais que atendam à criança, ou para o cidadão comum; não há mecanismos legais de proteção aos profissionais encarregados de notificar; ainda que seja difícil dimensionar a capacidade de cobertura da rede de serviços, dada a ausência de dados que retratem a extensão da violência, a prática mostra que essa rede é hoje muito aquém do necessário; e finalmente há poucos regulamentos que firmem procedimentos técnicos tais como quando notificar. O Guia de Atuação frente a Maus-Tratos na Infância e na Adolescência, editado pela Sociedade Brasileira de Pediatria em 2000, e a publicação Notificação de Maus-Tratos contra Crianças e Adolescentes pelos Profissionais de Saúde, do Ministério da Saúde em 2002, são documentos restritos à área de saúde e têm caráter informativo, sem força legal. A Resolução da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e a Norma do Ministério da Saúde, são exemplos já citados, igualmente restritos aos profissionais de saúde.
O tema do sigilo profissional tem sido objeto de deliberações dos diversos Conselhos profissionais. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, no Parecer 76/99, delibera que "a comunicação à autoridade competente não acarreta infração ética por parte do médico, não se configurando, assim, violação do segredo profissional", mesmo que se trate apenas de uma suspeita. O Código de Ética dos Psicólogos, embora recomende a privacidade e assegure o sigilo (art. 3), prevê que o sigilo seja colocado a serviço do menor impúbere ou interdito, e permite sua quebra quando se tratar de situações que impliquem conseqüências graves para o próprio atendido ou para terceiros (art. 26 e 27).
Influência da situação familiar no procedimento de notificar
Em artigo anterior, ressaltamos alguns entraves presentes no dia-a-dia dos profissionais de saúde que contribuem para que estes não notifiquem esse tipo de violação dos direitos da criança. Dentre eles destacamos: dificuldades técnicas específicas do processo de notificar (ignorar a necessidade, como ou a quem notificar); ausência de Conselhos Tutelares em diversos municípios do país e a situação precária de muitos Conselhos já instalados; falta de consciência social dos profissionais; o ainda insuficiente conhecimento sobre o tema, fundamental para a identificação dos casos e a segurança quanto aos procedimentos a serem adotados; medo do revanchismo por parte da família acusada de maus-tratos e das acusações de falsa denúncia; desconhecimento de que ato de notificar não representa uma quebra do sigilo profissional; e, por fim, especificidades de alguns casos atendidos, que por características próprias podem dificultar o ato de notificar.26 Vamo-nos deter nesse último aspecto.
Embora a lei obrigue à notificação de casos suspeitos ou confirmados de violência contra a criança, a prática clínica recomenda atenção à qualidade dessa suspeita. A maioria dos casos suspeitos não apresenta qualquer evidência física, ou apresenta evidências inespecíficas; freqüentemente, a suspeita tem como base o relato da criança, dos familiares ou as alterações no comportamento. Tanto o relato quanto a alteração de comportamento são de difícil avaliação, dada a subjetividade do primeiro e a dificuldade de correlacionar o segundo a um evento violento específico.É comum além disso que o profissional que procede à avaliação do caso encontre dificuldades de ordem prática para prosseguir na coleta de elementos que possam subsidiar a suspeita inicial.
Como produto final desse conjunto de obstáculos, os Conselhos Tutelares recebem muitas notificações que mereceriam ser melhor avaliadas pelos profissionais e pelos serviços de saúde ou de assistência social. Estes, em sua maioria, contam com estrutura e pessoal em condições de esclarecer a suspeita e agir portanto em conjunto com as equipes alocadas nos Conselhos Tutelares.
Os casos que envolvem negligência, atendidos em unidades da rede pública de saúde, são bastante ilustrativos da possibilidade dessa associação. É freqüente que a suspeita de negligência se coloque durante o acompanhamento no tratamento de uma doença crônica; o exame das condições de vida da família mostram que ela pode desconhecer a patologia da criança, ou pode estar atravessando dificuldades financeiras que dificultam ou impedem o cumprimento de um plano terapêutico que demanda comparecimento freqüente à unidade hospitalar e aquisição de medicamentos às vezes dispendiosos. Ainda que admitidos riscos para a criança, uma situação como a descrita requer assistência à família como veículo de proteção da criança.
Encontramo-nos aqui próximos aos casos para os quais Douglas Besharov chama a atenção: o risco não deriva de violência mas de carências familiares que cumpre suprir. Se considerarmos que a notificação não visa punir a família mas proteger a criança, a ação dos serviços de saúde e assistência social pode ser valiosa e desobrigar os Conselhos Tutelares de um conjunto de procedimentos cuja finalidade primeira [investigar a denúncia] ou última [prover a proteção] pode contar com a contribuição de toda a estrutura de serviços públicos. Em um país de carências continentais como o Brasil, essas situações têm sido excessivamente comuns e são, por isso, de grande relevância.
Um segundo aspecto a discutir diz respeito aos elementos coletados durante o esclarecimento da suspeita, cujo relato é incorporado à notificação encaminhada ao Conselho Tutelar. O relato é o ponto de partida para a ação do Conselheiro Tutelar, seja para definir a urgência que o caso requer seja para definir a modalidade de intervenção necessária. O conteúdo desse relato é, por isso, vital. Para seguirmos com o exemplo já mencionado, o relato deve incorporar a descrição da suspeita de negligência, as exigências que a patologia da criança requer e as dificuldades identificadas na família; mas esse relato deve descrever também quais ações já estão em curso no serviço que primeiro atendeu a criança e suspeitou de violência, e indicar que outras são ainda necessárias. Essas questões não têm sido abordadas com muita freqüência na literatura, provavelmente porque os estudos norte-americanos ou europeus contam com uma infra-estrutura de serviços de patamar mais elevado. No Brasil contudo, e provavelmente na América Latina, a otimização de recursos, e a associação estreita entre os poucos serviços disponíveis, torna o tema bastante importante: a escassez de recursos e de pessoal especializado faz com que seja imperioso evitar duplicidade de ação e dispêndios desnecessários.
Além disso, é preciso decidir o melhor momento para proceder à notificação da suspeita. Ainda que não disponhamos de uma epidemiologia da violência no Brasil, a prática mostra que, tal como nos Estados Unidos, a grande maioria das situações estudadas e acompanhadas são as de menor gravidade, estas entendidas como as que não implicam grande risco para a integridade física da criança ou os casos de abuso sexual continuado.21 Uma vez que a legislação é omissa quanto ao intervalo de tempo admitido para que se proceda à fundamentação de uma suspeita, os profissionais terminam por decidir por si próprios o melhor momento para fazê-lo. A prática tem mostrado também que esse intervalo entre a suspeita e a notificação pode ser útil para amadurecer, junto à família, a decisão de notificar. Essa é uma recomendação da legislação do Estado de Mariland, que os profissionais acolhem em favor da consolidação da suspeita e da apresentação de uma notificação melhor fundamentada.16 É um tempo útil para preparar a família, esclarecer acerca da obrigatoriedade da notificação, seu teor e seu significado, a quem ela se dirige, suas vantagens e seus possíveis desdobramentos. Nessa negociação, a notificação é apresentada à família como veículo de acesso a instituições e serviços dos quais ela necessita para minorar o impacto dos fatores que alimentam ou favorecem a eclosão da violência. A discussão junto à família atende a um preceito ético e tem por efeito minimizar os impactos da notificação, observados na nossa prática diária27 e confirmados na literatura.16
Interferência da notificação no acompanhamento dos casos
A importância do acompanhamento da criança e da família, mesmo após a notificação, está diretamente associada à escassez de recursos dos Conselhos Tutelares, que obriga os Conselheiros a priorizar os casos de maior gravidade. Quando a violência não é severa ou quando o risco implicado para a criança não é significativo, o impacto da notificação e da ação dos Conselheiros Tutelares tem sido pequeno. É justamente aqui, nas situações que são inclusive as mais freqüentes, que a atuação continuada dos profissionais de saúde e assistência social pode ser decisiva na proteção da criança.
Até porque, quando o risco é pequeno e a violência não é grave, as dificuldades operacionais dos Conselhos Tutelares terminam por se transformar em empecilho ao acompanhamento da família: a estrutura física dos Conselhos é precária, o tempo de espera é longo, não há privacidade no atendimento; a retaguarda escassa faz com que os encaminhamentos não sejam atendidos, ou que tardem em demasia; o processo jurídico, quando requerido, custa a ser instrumentado. Mais procedente parece, portanto, que sempre que possível a atenção à criança possa ser oferecida no serviço onde a notificação teve origem, de modo a permitir que os esforços dos Conselhos Tutelares fiquem centrados onde a situação é mais grave e a intervenção requeira maior poder de coerção.
A demora no andamento das questões legais é especialmente custosa para a família que busca uma reparação legal – para usar a expressão corrente, que "seja feita justiça". Nessa expressão, estão agregados o desejo de responsabilização e punição penal do autor da violência. A lentidão da justiça, problema conhecido e reconhecido no Brasil, tem sido freqüentemente discutida pelos familiares junto aos serviços que notificam a violência, e constitui-se às vezes no único recurso de que dispõem para articular seu empenho pessoal às iniciativas do poder público em prol da proteção da criança.
Há muitos benefícios que derivam de condições favoráveis para discutir com a família a responsabilidade de cada um dos setores envolvidos com a proteção da criança. Ao familiar, pode-se possibilitar compreender seus próprios limites, e os limites de cada serviço, nas ações que competem a cada um. A frustração pela ausência de punição legal onde ela cabe é inegável e cabível, mas mesmo nessas situações o profissional de saúde dispõe de elementos para buscar que a família opere em nome do bem-estar da criança independente das ações punitivas que visam o autor da violência. A prática mostra que, em particular nos casos de violência sexual, a família tende a priorizar a punição do agressor em detrimento do apoio à criança, colocando a exigência de relato repetido do abuso sofrido a inúmeros serviços, confrontando um agressor que às vezes é alvo de afeto da criança, como se tais condutas fossem capazes de promover a "comprovação" da violência e acelerar o processo legal. No processo de atendimento, é possível mostrar que o bem-estar da criança e a ação jurídica podem ter cursos independentes, e com isso produzir benefícios para a criança, evitando os excessos que comumente decorrem do episódio que origina todo o processo.
Essa discussão evidencia que a estrutura emocional da família é componente essencial da proteção da criança. Sobre a família, repousa a tarefa de assegurar que durante a evolução de todo o processo, em particular no período que se segue à notificação, não fiquem sem assistência a criança vítima de violência, seus irmãos ou outros membros do núcleo familiar. A notificação representa uma alteração no cotidiano da família, e um desgaste emocional para cada um de seus membros, o que pode contribuir para a irritabilidade, a agressividade, a instabilidade emocional, as alterações do sono da criança e de outros envolvidos. Trabalhar em nome do bem-estar da criança significa prestar auxílio à família na compreensão dessas mudanças e fazer com que elas sejam transitórias. Se a sobrecarga que elas causam é excessiva, é possível que a família se ausente dos serviços de saúde e assistência e passe a priorizar o encaminhamento pela via judicial. Quando isso ocorre, cabe um esforço adicional para a retomada do acompanhamento.
Considerações finaisEstudo recente desenvolvido nos Estados Unidos mostra que o percentual de casos de violência contra crianças que chega às agências de proteção varia entre 5% e 17%. A quantificação desse percentual evidencia que os profissionais seguem hesitando em notificar, o que coloca em questão todos os estudos que tomam por base os números registrados nas agências de proteção americanas. A constatação de que uma percentagem ainda menor recebe atendimento, e a ausência de dados acerca dos benefícios que esse atendimento gera para a criança e a família, desenham um quadro ainda mais grave.28
Se esses dados põem em cheque o sistema de notificação e as agências americanas, mais antigos e melhor aparelhados, permitem levantar suspeitas ainda mais sérias no Brasil, onde a notificação é mais recente, menos difundida entre os profissionais, e onde a ação dos Conselhos Tutelares e dos serviços de atenção é mais precária e por isso provavelmente menos eficaz do ponto de vista da proteção da criança ou do suprimento de carências familiares mais complexas.
Esse panorama aconselha a que se atente para as razões dos profissionais que defendem estratégias de abordagem diversas da notificação imediata da suspeita de violência contra a criança. Seus argumentos, ao invés de revelarem falta de comprometimento ou desconhecimento do tema, podem estar apontando para um envolvimento com o sistema que ultrapassa a superfície e excede a mecânica dos procedimentos recomendados.
Inúmeros relatos das ações que decorrem da notificação de violência contra a criança no Brasil oferecem elementos preliminares de análise acerca das redes de assistência e da intervenção dos Conselhos Tutelares; o quadro desenhado a partir daí mostra que do ato de notificar não necessariamente nasce a proteção, assim como de sua ausência não necessariamente decorre o abandono da criança ou da família.
O resgate da noção de bem-estar que fundamenta uma postura não adversarial no trato da violência contra a criança deve ser seriamente considerado no interior do sistema de notificação, seja pelos profissionais das agências de atenção ou dos Conselhos Tutelares, seja pelas normas legais que regem a matéria. Longe de significar o distanciamento ou o descompromisso, tal postura parece conter uma aproximação da questão da violência contra a criança que abarca toda a extensão de seus determinantes, transfere para a ação o sentido mais completo do modelo ecológico de análise, permite operar com os recursos institucionais disponíveis levando em conta seus limites e resgata o vigor de uma ação que deve ser sobretudo comprometida com a integralidade dos direitos da criança e da família.
Los autores no manifiestan conflictos.
 Bibliografía del artículo
Bibliografía del artículo
- Donzelot J. A Polícia das Famílias. Rio de Janeiro: Graal, 1986 (2a. ed).
- Ferreira V, Portela M. Avaliação da subnotificação de casos de AIDS no município do Rio de Janeiro com base em dados do sistema de informações hospitalares do SUS. Cadernos de Saúde Pública 1999; 15, pp 317- 324.
- Foucault M. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. Petrópolis: Vozes, 1988 (6a. ed.).
- Vigarello G. História do Estupro. Violência sexual nos séculos XVI-XX. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.
- Gelles RJ. Intimate violence in families. London: Sage, 1997 (3a. ed.)
- Besharov DJ. Overreporting and underreporting are twin problems. In: RJ Gelles & DR Loseke (eds.). Current controversies on family violence. Newbury Park: Sage Publications, 1993, pp 257-272.
- Stein TJ. Legal reports on family violence against children. In: RL Hampton (ed). Family violence: prevention and treatment. London: Sage Publications, 1993, pp 179-197.
- Berkowitz CD, Bross DC, Chadwick et al. Diagnóstico e tratamento do abuso sexual em crianças segundo a Associação Médica Americana. Supl. JAMA Clínica Pediátrica 1994; 2(3):224-232.
- Belsky J. Etiology of child maltreatment: a developmental-ecological analysis. Psychological Bulletin 1993; 114(3):413-434.
- Orr S. Child protection at the crossroads: child abuse, child protection, and recommendations for reform. Reason Public Policy Institut. Policy Study n. 262, 1999 Disponível em http://www.rppi.org/socialservices/101199.html.
- Delaronde SR, King G, Bendel R et al. Opinions among mandated reporters toward child maltreatment reporting policies. Child Abuse & Neglect 2000; 24(7):901-910.
- Finkelhor D. The main problem is still underreporting, not overreporting. In: RJ Gelles & DR Loseke (eds.). Current controversies on family violence. Newbury Park: Sage Publications, 1993, pp 273-287.
- Sadler BL, Chadwick DL e Hensler DJ. The summary chapter - The national call to action: moving ahead. Child Abuse & Neglect 1999; 23(10):1011–1018.
- Huertas JAD. Epidemiología. In: JC Flores, JAD Huertas e CA González. Niños maltratados. Madrid, Diaz de Santos: 1997, pp 15-25.
- Briggs S. Medical issues with child victims of family violence. In: Ammerman RT e Hersen M. Case studies in family violence. New York: Plenum Press, 1991, pp 87-96.
- Wissow LL. Reporting suspected child maltreatment. In: LL Wissow. Child advocacy for the clinician: an approach to Child Abuse and Neglect. Baltimore: Williams & Wilkins, 1990, pp. 201-208.
- Duquete DN. Liberty and lawyers in child protection. In: Helfer RE e Kempe RS. The battered child. Chicago: Un. Chicago Press, 1987, pp 401-422.
- Théry I. Nouveaux droits de l\'enfant, la potion magique Esprit 1992; mars-avril:5-30.
- Théry I. Le probléme du "démariage". Panoramiques 1996; 25:19-22.
- Ferreira AL e Schramm FR. Implicações éticas da violência doméstica contra a criança para profissionais de saúde. Revista de Saúde Pública 2000; 34(6):659-65.
- Berkowitz CD, Bross DC, Chadwick DL et al. Diagnóstico e tratamento do abuso sexual em crianças segundo a Associação Médica Americana. Supl. JAMA/ Clínica Pediátrica 1994; 2(3):224-232.
- Emery RE & Laumann-Billings L. An overview of the nature, causes, and consequences of abusive family relationships. Toward differentiating maltreatment and violence. American Psychologist 1998; 53(2):121-35.
- Camurça M. Considerações sobre a atuação e o funcionamento dos Conselhos Tutelares no município do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: ISER, 1999.
- Fundação Centro de Defesa dos Direitos Humanos Bento Rubião. Visualizando a política de atendimento à criança e ao adolescente: relatório da pesquisa. Rio de Janeiro: Litteris Editora, 1999.
- Gonçalves HS. Infância e violência no Brasil. Rio de Janeiro: Faperj/Nau, 2003.
- Gonçalves HS, Ferreira AL e Marques MJV. Avaliação de um serviço de atenção a crianças vítimas de violência doméstica. Revista de Saúde Pública 1999; 33 (6):547-553.
- Gonçalves HS e Ferreira AL. A notificação da violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes por profissionais de saúde. Cadernos de Saúde Pública 2002; 18 (1):315-319.
- Ferreira AL, Gonçalves HS, Marques MJV et al. A prevenção da violência contra a criança na experiência do Ambulatório de Atendimento à Família: entraves e possibilidades de atuação. Ciência & Saúde Coletiva 1999; 4(1):123-130.
- Macmillan HL, Jamieson E e Walsh CA. Reported contact with child protection services among those reporting child physical and sexual abuse: results from a community survey. Child Abuse & Neglect 2003; 27:1397-1408.
©
Está
expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
contenidos de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) S.A. sin
previo y expreso consentimiento de SIIC

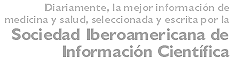

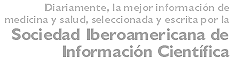

 Artículos originales> Expertos del Mundo>
Artículos originales> Expertos del Mundo> Enviar correspondencia a:
Enviar correspondencia a: